:: Eliade, Birman, Weber… ::
 O MonteMeru numa representação budista
O MonteMeru numa representação budista
:: DESENCANTAMENTO E DESCENTRAMENTO ::
Pode parecer algo tão trivial e evidente que quase dá vergonha de enunciar: nenhum de nós é o centro do mundo (e só um lunático “umbigocêntrico” sustentaria tal presunção). Mas se formos dar um passeio pelo passado de nossa espécie e consultarmos a história das religiões humanas, nas mais diversas culturas, perceberemos uma notável recorrência do “simbolismo” do centro e da crença de diversos povos de que se encontravam de fato no “umbigo do Cosmos”.
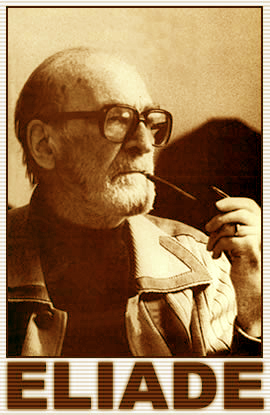 Como explica Mircea Eliade, historiador das religiões dos mais eruditos e cuidadosos que eu conheço, “o homem religioso desejava viver o mais perto possível do Centro do Mundo. Sabia que seu país se encontrava efetivamente no meio da Terra; sabia também que sua cidade constituía o umbigo do Universo e, sobretudo, que o Templo ou o Palácio eram verdadeiros centros do mundo.” (O Sagrado e o Profano, pg. 43).
Como explica Mircea Eliade, historiador das religiões dos mais eruditos e cuidadosos que eu conheço, “o homem religioso desejava viver o mais perto possível do Centro do Mundo. Sabia que seu país se encontrava efetivamente no meio da Terra; sabia também que sua cidade constituía o umbigo do Universo e, sobretudo, que o Templo ou o Palácio eram verdadeiros centros do mundo.” (O Sagrado e o Profano, pg. 43).
Os exemplos que Eliade colheu são numerosos, provenientes das mais diversas civilizações: “A capital do soberano chinês perfeito encontra-se no Centro do Mundo: aí, no dia do solstício do verão, ao meio-dia, o gnomo não deve ter sombra. É surpreendente encontrar o mesmo simbolismo aplicado ao Templo de Jerusalém: o rochedo sobre o qual se erguia o templo era o ‘umbigo da Terra’. (…) A mesma concepção no Irã: a região iraniana é o centro e o coração do Mundo. Tal como o coração se encontra no meio do corpo, o país do Irã é mais precioso que todos os demais países porque está situado no meio do Mundo…” (pg. 40-41).
O que Eliade ilustra também é a recorrência de “montanhas sagradas” e templos que são louvados como se estivessem numa posição privilegiada no Cosmos. “Numerosas culturas nos falam dessas montanhas – míticas ou reais – situadas no Centro do Mundo: é o caso do Meru, na Índia ou de Haraberezati, no Irã…” (p. 39). A tradição israelita segue na mesma senda ao proclamar que “a Palestina, sendo a região mais elevada, não foi submersa pelo dilúvio” (idem).
Os exemplos poderiam ser multiplicados, mas estes já me parecem suficientes para indicar a “obsessão” do homem religioso com a crença de que sua coletividade encontra-se numa posição central no universo, gozando do privilégio de ser sagrada em contraste com a imensidão de espaço “profano” que a rodeia. Como conclui Eliade, “o homem religioso experimenta a necessidade de existir sempre num mundo total e organizado, num Cosmos”, e procura esta meta instaurando “roturas” no espaço físico que estabeleçam fronteiras entre o sagrado e o profano. Em outros termos: o homem religioso “consagra” certos locais, que passam a ter um valor simbólico para a coletividade; e este local “sagrado” de culto e contato com o transcendente contrasta com os perigos insondáveis do indomável domínio “profano”.
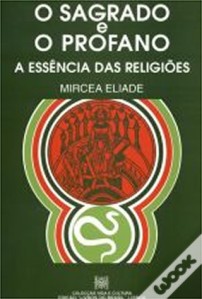 O processo de “dessacralização do cosmos” que Eliade descreve como concomitante ao alvorecer científico da modernidade (e que talvez seja outra expressão para referir-se àquilo que Max Weber chamava de “desencantamento do mundo” e Nietzsche de “crepúsculo dos ídolos” e “morte de Deus”…), põe radicalmente em cheque esta noção “umbigocêntrica” característica da visão de mundo religiosa. É compreensível que povos vivendo 2.500 anos atrás acreditassem que suas comunidades estavam no centro da Criação; afinal, não tinham inventado meios de transporte potentes para explorar o planeta e descobrir sua imensidão, nem sabiam que a Terra gira em torno do Sol; em suma: viviam em sua pequenina paróquia tomando-a por uma imensidão de modo semelhante a um abelha-rainha que considerasse sua colméia o centro absoluto de um cosmos (evidentemente gerido por um deus com antenas e produtor de mel…). Já nós, que nascemos na era do telescópio, do helio-centrismo, do darwinismo e da psicanálise temos mais dificuldade em levar a sério uma proposição tão suspeita de ser uma expressão de um certo “nascisismo dos povos”. Olho pela janela do apartamento e sei perfeitamente que Santo André não tem nada de “Centro do Mundo”!
O processo de “dessacralização do cosmos” que Eliade descreve como concomitante ao alvorecer científico da modernidade (e que talvez seja outra expressão para referir-se àquilo que Max Weber chamava de “desencantamento do mundo” e Nietzsche de “crepúsculo dos ídolos” e “morte de Deus”…), põe radicalmente em cheque esta noção “umbigocêntrica” característica da visão de mundo religiosa. É compreensível que povos vivendo 2.500 anos atrás acreditassem que suas comunidades estavam no centro da Criação; afinal, não tinham inventado meios de transporte potentes para explorar o planeta e descobrir sua imensidão, nem sabiam que a Terra gira em torno do Sol; em suma: viviam em sua pequenina paróquia tomando-a por uma imensidão de modo semelhante a um abelha-rainha que considerasse sua colméia o centro absoluto de um cosmos (evidentemente gerido por um deus com antenas e produtor de mel…). Já nós, que nascemos na era do telescópio, do helio-centrismo, do darwinismo e da psicanálise temos mais dificuldade em levar a sério uma proposição tão suspeita de ser uma expressão de um certo “nascisismo dos povos”. Olho pela janela do apartamento e sei perfeitamente que Santo André não tem nada de “Centro do Mundo”!
De modo que o “desencantamento do mundo” weberiano conduz também a um certo “descentramento do sujeito” (para usar uma expressão de Joel Birman quando versa sobre o legado de Freud). São processos correlatos. Quanto mais o sujeito conquista a capacidade de perceber o mundo de modo mais objetivo, mais sua crença em sua “centralidade” vai sendo minada e corroída. Não conheço exemplo melhor do que recorrer mais uma vez à noção freudiana de “feridas narcísicas” que vão sendo “infligidas” sobre a humanidade conforme progride seu conhecimento sobre si mesma. Como aponta Birman:
“…a psicanálise representaria a terceira grande ferida narcísica da humanidade, que teria sido precedida historicamente pela revolução copernicana na cosmologia e pela revolução darwiniana na biologia. (…) Se com Copérnico a Terra foi deslocada do centro do cosmo e inserida na posição secundária de ser um dos diversos planetas que giram em torno do Sol, com Darwin o homem perdeu o seu lugar privilegiado na ordem da natureza e se inscreveu nesta como uma espécie derivada de outras espécies na evolução biológica. (…) Para Freud, a psicanálise teria retirado a última ancoragem da pretensão humana, o último reduto da superioridade do homem, ao enunciar que a consciência não é soberana no psiquismo do indivíduo e que o eu não é autônomo no funcionamento psíquico. Vale dizer, o ser do psíquico se desloca da consciência e do eu para os registros do inconsciente e da pulsão, que passam a regular materialmente o ser do psiquismo.” (Estilo e Modernidade em Psicanálise, pg. 19-20. Editora 34.)
Obviamente, como Birman bem percebeu, estes “golpes” no narcisismo humano não dizem respeito somente à queda da nossa “auto-estima”, mas representa uma profunda reviravolta ética e religiosa. “Essa ‘humilhação’ tem um sentido ético e religioso, na medida em que está em pauta não somente a perda de um poder cognoscível privilegiado, mas o deslocamento do homem do cento do universo, da natureza e do psiquismo, onde gozava supostamente de um lugar privilegiado no mundo divino. Portanto, pelos três registros heterogêneos do descentramento, o homem teria perdido as benesses do divino e teria sido lançado à sua própria sorte, aos efeitos imponderáveis das forças cegas do destino…” (op cit, pg. 21).
É o preço a pagar pelo saber. Não é a própria Bíblia quem alerta o crente de que “quem aumenta seu conhecimento, aumenta sua dor” (Eclesiastes, I, 18)? Mas não é só a dor que aumenta conforme progride o conhecimento; a plausibilidade e a credibilidade da religião também despencam, em queda livre. De modo que Thomas Nagel afirmará também uma certa incompatibilidade radical e insuperável entre o anseio humano por conhecimento objetivo e as doutrinas religiosas que tentam persuadir-nos, acarinhando nosso amor-próprio, de “privilégios cósmicos” improváveis que supostamente teríamos. Deus, antes concebido como Criador e Centro do cosmos, é “exilado” para um pontículo minúsculo do universo: o cérebro de alguns mamíferos bípedes dotados de tele-encéfalo altamente desenvolvido e polegar opositor, que num certo momento do desenvolvimento histórico da espécie puderam imaginá-lo para seu próprio conforto e consolo. De modo que a objetividade conduziria bem mais à “humildade” humana diante de sua posição no imenso Universo do qual somos uma minúscula parte do que à presunção, típica das doutrinas religiosas, de uma suposta posição privilegiada/central do humano no cosmos.
Esta humildade decorrente da visão objetiva é aquilo que a crença religiosa tantas vezes renega e impede. “A solução religiosa nos confere uma centralidade emprestada ao nos tornar alvo do interesse de um ser supremo”, aponta Nagel (pg. 351). Mas é evidente que acreditar-se o “centro de atenção” de um deus (como se Ele estivesse lá em cima, numa nuvem, observando meus atos com profundo interesse, “cuidando” de mim como um Papai do Céu…) é demonstrar uma tremenda falta de objetividade. Pois, como Nagel aponta, a objetividade consiste muito mais num “desejo de viver, tanto quanto possível, no pleno reconhecimento de que nossa posição no universo não é central” (pg. 351). E Nagel vai ainda mais longe, sugerindo que é uma desonestidade a gente se considerar ilusoriamente como o “centro do universo” ou o “ponto” onde recai o holofote divino. “O ponto de vista objetivo é uma parte muito essencial de nós para que possamos suprimi-lo sem faltar à honestidade” (pg. 350).
Publicado em: 25/09/10
De autoria: Eduardo Carli de Moraes






